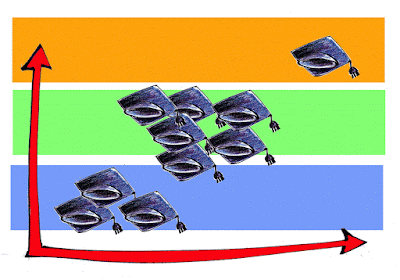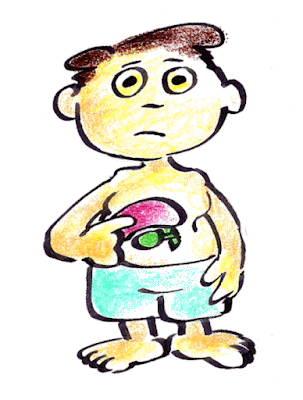Tenho recebido muitos e-mails de famílias (especialmente das mães) angustiadas por não saberem o que fazer com seus filhos ou filhas com NF, por falta de assistência especializada em seus municípios. Assim são os pedidos de ajuda de VJ de Campinas, de SC de Fortaleza, de AC de Campina Grande, de LSF de Manaus e tantas outras pessoas.
De fato, como acontece com todas as demais doenças raras, ainda não temos profissionais de saúde suficientes e devidamente preparados para atender as neurofibromatoses. Há uma portaria do Ministério da Saúde (de 2014) que cria os Centros de Referência em doenças raras no SUS, mas entre a intenção governamental e a realização das nossas necessidades tem que haver uma mobilização social e política que ainda não aconteceu, por isso, os Centros ainda estão no papel.
Enquanto isso, vamos tentando ajudar naquilo que podemos.
Geralmente, os e-mails que recebo trazem informações sobre a situação da clínica e me pedem orientações sobre como proceder, se devem realizar ou não determinada cirurgia ou se devem fazer ou não determinado exame complementar.
A todas estas pessoas respondo que, como médicos, não podemos responder diretamente sobre qualquer questão de saúde de uma pessoa sem examiná-la pessoalmente, ou sem um relatório de outro (a) médico (a) no qual ele (ela) solicite a nossa opinião.
Assim, para que possamos responder com segurança sobre problemas relacionados às neurofibromatoses, estamos à disposição de todas as pessoas no Centro de Referência em Neurofibromatoses do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CRNF).
Somos um serviço público e estamos vinculados ao Sistema Único de Saúde, por isso, é fundamental trazer seu cartão do SUS na primeira consulta.
Para agendar uma consulta conosco (com Dr. Nilton Alves de Rezende ou comigo) basta ligar no telefone 31 3409 9560 ou mandar um e-mail para: adermato@hc.ufmg.br
Além disso, as pessoas perguntam se conhecemos especialistas em NF em suas regiões. Repito o que está informado no lado direito desta página, que, por acreditar que a saúde é um direito de todos e não deve ser comercializada, neste blog somente indico os serviços públicos que eu conheço pessoalmente (VER AQUI).
Respeitadas estas condições, procuro fornecer informações gerais sobre os problemas apresentados e aproveito aquelas questões de interesse mais amplo para reproduzi-las neste blog.