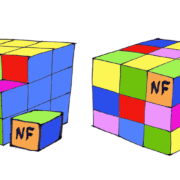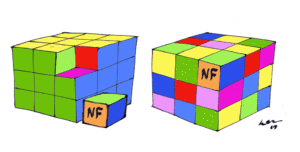
O leitor P.E.N., de Aracaju, trouxe a pergunta: “Por que a maioria das pessoas, inclusive os médicos, desconhece as neurofibromatoses? ”
Para responder, preciso contar uma história.
Meu pai, José Benedito Rodrigues, foi médico em Lambari, uma pequena cidade no Sul de Minas, e eu era menino quando o acompanhava em seus atendimentos pelas fazendas e povoados ao redor, que eram alcançados apenas pelas estradas de terra.
Na volta para casa, algumas vezes ele me dizia estar em dúvida sobre o diagnóstico de alguma pessoa que acabara de atender, mas logo se lembrava do pensamento que aprendera com um de seus professores na Faculdade de Medicina: “o que é comum, é comuníssimo – o que é raro, é raríssimo”. Então, meu pai optava pelo diagnóstico mais comum, aquele que melhor podia se encaixar naquela circunstância.
O sentido deste pensamento é que o médico precisa se preocupar com aquilo que é comum, ou seja, saber tratar as doenças mais comuns. As doenças raras, então, infelizmente, ficavam desamparadas, olhadas apenas como curiosidades científicas e recebendo atenção de poucos médicos que eram, inclusive, criticados por dedicarem seu tempo às “raropatias”.
Além deste pensamento discriminador, de fato, é impossível para qualquer médico conhecer profundamente as mais de 5 mil doenças raras que existem, o que contribui para afastar o nosso interesse pelo seu conhecimento, pois pensamos que jamais encontraremos uma pessoa com uma daquelas doenças ao longo da nossa vida profissional. É importante lembrar que o conhecimento médico atual é impossível de ser dominado por qualquer indivíduo de forma satisfatória, porque existem cerca de 55 mil doenças diferentes, segundo o Código Internacional de Doenças (CID), ver AQUI. Tudo isso nos remete para a necessidade de especialistas.
Eu mesmo, quando estudante de medicina, ao saber que a neurofibromatose do tipo 1 acontecia em menos de 1 pessoa em cada 20 mil (dados daquela época), disse que não estudaria o assunto para a prova de neurologia, pois “eu jamais veria um caso em Lambari”, aonde pretendia trabalhar depois de formado e cuja população era de 12 mil pessoas. Alguns anos depois, nasceu uma de minhas filhas com NF1.
Meu pai formara-se em 1947, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, antes, portanto, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1949). Até aquela declaração promovida pela Organização das Nações Unidas, a maioria dos países era governada por ditaduras ou regimes autoritários, mas aos poucos as democracias foram se disseminando pelo mundo.
As ideias dominantes até aquela época se dividiam entre ideologias que justificavam o poder de uma minoria sobre as demais pessoas (por exemplo, ditaduras, monarquias, reinados e colônias) ou ideologias que procuravam respeitar a vontade da maioria, ou seja as democracias.
No entanto, as democracias podem ser divididas em dois tipos: as democracias exclusivas e as democracias inclusivas.
As democracias exclusivas são aquelas que consideram que apenas o desejo da maioria deve ser respeitado e as minorias devem se adaptar ou serem extintas (por exemplo, se a maioria de uma nação é formada por pessoas interessadas em criar gado na floresta amazônica, os povos indígenas devem ceder suas terras ou serem extintos como cultura).
Depois da Declaração Universal dos Diretos Humanos, passamos a defender que todas as pessoas devem ser respeitadas e não apenas as maiorias. Todos temos direitos iguais: o direito à vida, à nossa cultura, o direito de realizarmos nosso potencial humano, de termos filhos e sermos felizes.
Estes direitos humanos nos pertencem de forma independente da cor da nossa pele, do nível social e econômico, da religião, do gênero ou da preferência sexual. E independente do estado de saúde.
Assim, começaram a surgir democracias inclusivas, que são aquelas que respeitam o desejo das maiorias, mas de tal forma que as minorias sejam também respeitadas e protegidas. Por exemplo, numa democracia inclusiva, os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) devem atender as doenças mais comuns, mas também as mais raras. Se temos 100 reais para distribuir entre a população do SUS, que sejam destinados 3 reais para as doenças raras, pois 3% da população apresenta uma das mais de 5 mil doenças raras.
Depois que entrei para a Faculdade de Medicina onde se formara meu pai, na Universidade Federal de Minas Gerais, ouvi do mesmo professor o famoso pensamento. Ainda hoje vejo colegas médicos repetirem aquela ideia de que o que é raro é raríssimo, o que é comum é comuníssimo. Talvez a maioria dos médicos pense que as doenças comuns devam ser atendidas primeiro e, se sobrassem recursos, as raras teriam a sua vez.
Como os recursos atuais do SUS são insuficientes para o tratamento até mesmo das doenças comuns de forma eficiente, as doenças raras jamais receberão o cuidado que merecem. Então, temos dois desafios: pressionar os governos a aumentarem os recursos para a saúde e garantir uma parcela destes recursos para as doenças raras.
Se conseguirmos construir uma democracia inclusiva, as minorias receberão nossa atenção, entre elas as pessoas com doenças raras. Para isso, todos nós (inclusive os médicos) devemos mudar nosso olhar e procurar conhecer melhor e respeitar todas as minorias, incluindo as pessoas com doenças raras.
Portanto, o conhecimento dos médicos sobre as neurofibromatoses caminha junto com a sociedade: se a democracia for exclusiva, haverá descaso e discriminação com aquele que é diferente da maioria. Se a democracia for inclusiva, haverá interesse e respeito pelas minorias.
Nesse futuro que espero possamos construir, meu caro P.E.N. de Aracaju, você encontrará médicas e médicos que talvez não venham a entender profundamente de sua neurofibromatose, mas saberão indicar para você centros de referência em doenças raras. Além disso, todos reconheceremos que você merece receber o melhor atendimento que o Sistema Único de Saúde possa oferecer.
Comentário
Depois de ler o texto acima, o Dr. Luiz Otávio Savassi Rocha, professor de Clínica Médica e Professor Emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, enviou-nos o seguinte e-mail:
Caro Luiz Oswaldo
Subscrevo suas palavras por várias razões, como, por exemplo: 1 – porque a Medicina é uma só e o médico não escolhe (ou, pelo menos, não deveria escolher) quem deverá procurá-lo; 2 – porque, em se tratando de doenças raras – particularmente se de natureza genética −, os pacientes em geral não têm responsabilidade sobre o seu adoecimento (ao contrário, por exemplo, dos tabagistas inveterados acometidos por carcinoma das cordas vocais); 3 – porque já tive familiares e amigos acometidos por doenças raras e sei de seu impacto sobre tais pessoas; 4 – porque, convivendo com os exercícios de correlação anatomoclínica há meio século, já deparei com as mais variadas doenças raras, bem como com as mais variadas apresentações insólitas de doenças comuns. Aproveitando a oportunidade, envio-lhe, a propósito de doenças raras, o relato de dois casos publicados, respectivamente, no periódico Arquivos Brasileiros de Cardiologia e no periódico on-line Autopsy and Case Reports (do qual sou membro do Comitê de Publicação). Envio-lhe, também, texto de minha autoria a propósito do que eu entendo por “ser clínico”.
Grande abraço, extensivo à sua esposa, do
Luiz Otávio Savassi
SER CLÍNICO
Ser clínico, num tempo marcado por massacrante quantidade de informações maldigeridas, pela fragmentação do saber e pela hiperespecialização, é, antes de tudo, uma atitude, uma postura, um modus faciendi.
É ser uma espécie de gerente ou maestro, capaz não apenas de lançar um olhar giratório e hipercrítico sobre tudo um pouco, como também de “governar a rédea”, na tentativa de manter a situação sob controle, para que o paciente não “entre em parafuso” e não se perca num emaranhado de opiniões avulsas, não raro divergentes, emitidas por uma sucessão de especialistas stricto sensu que, além de desprovidos de uma visão de conjunto, nem sempre levam em consideração o contexto psicossociocultural em que o mesmo se insere – “o homem e sua circunstância”, de que fala Ortega y Gasset. É rebelar-se contra a “Medicina prêt-à-porter”, da produção em série e do consumo, que dispensa o raciocínio elaborado e a reflexão amadurecida.
É estar sempre disposto a exercer, sem pressa, a arte da escuta empática, desarmada; alguém capaz de ouvir o que é dito e, sobretudo, o não-dito; alguém que se disponha a ler nas entrelinhas, a captar o conteúdo latente do discurso do paciente, inspirado no logos riobaldinus: “O sério pontual é isto, o senhor escute, me escute mais do que eu estou dizendo; e escute desarmado”.
É ter consciência, como o próprio Riobaldo, de que “a gente sabe mais, de um homem, é o que ele esconde”. É ser capaz de realizar um exame físico refinado e o mais completo possível, ciente de seu incontestável valor heurístico e, até mesmo, de sua transcendência, na medida em que, como ensina Lewis Thomas, “o tato é um meio de conseguir significativas visões íntimas”.
É saber que o ato médico transcende o fato médico e que a busca de “evidências”, baseadas, sobretudo, em estudos randomizados, constitui apenas um dos componentes da tomada de decisões. É não deixar que os guidelines, protocolos e algoritmos, fundamentos da chamada cookbook Medicine, sejam sempre os balizadores implacáveis da conduta médica; por conseguinte, é ter a consciência clara de que o exercício de seu mister está menos para um concerto-recital, em que, de forma mais ou menos previsível, interpreta-se ao pé da letra uma partitura, do que para uma jam session, em que se privilegia a improvisação ao sabor do clima que brota no momento da interação entre os músicos participantes.
É imbuir-se de salutar cepticismo e, na esteira de John P.A. Ioannidis [Why most published research findings are false. PLoS Med 2005; 2(8):e124], desconfiar dos resultados das pesquisas, mesmo quando estampados nas páginas dos mais prestigiosos periódicos. É privilegiar a subjetividade, em busca da chamada “Medicina da pessoa”; é “andar com o sapato do outro” e, sem abrir mão da própria individualidade, procurar enxergar o mundo a partir de sua perspectiva.
É tornar-se uma espécie de alter ego do paciente, ajudando-o a descobrir, num relacionamento marcado pelo diálogo e pela parceria, o que parece ser melhor para si, num certo momento e sob determinadas circunstâncias, sem no entanto deixar de informá-lo, com base em pesquisas idôneas, sobre o que seria, em tese, melhor para um grande número de pessoas, em circunstâncias parecidas, mas nunca idênticas.
É não deixar que, ao modo da vassoura do bruxo, no poema “O Aprendiz de Feiticeiro”, de Goethe, a tecnologia tenha vida própria e, roubando a cena, passe a constituir um valor em si mesma e não um simples meio para se atingir determinado fim. É relativizar a importância dos exames complementares, dando-lhes o valor que merecem, nem mais, nem menos; e, em se tratando dos métodos de imagem, é saber precaver-se contra os “incidentalomas”.
É ser chamado a atender, em primeira mão, pacientes sem diagnóstico, com quadros clínicos obscuros ou apresentações insólitas de afecções comuns – como, por exemplo, aqueles com febre prolongada de origem indeterminada –, pacientes esses que, pela indefinição de seu problema, exigem uma abordagem a mais abrangente possível.
É cultivar a prudência, pois, como ensina o escritor cordisburguense, “muito junto do braseiro, gente há às vezes que não se aquece direito, mas corre risco de sapecar a roupa”. É ser um profissional inacabado, sempre a meia jornada, em permanente gestação, e, por conseguinte, alguém que não parece ter direito ao repouso do sétimo dia.
É estudar muito e saber pouco; e, cônscio de suas limitações e da precariedade de sua condição – visto que o ser humano, no fundo, não passa de um pobre coitado –, é cultivar a humildade, pois, em sua práxis cotidiana, está condenado a encenar o incômodo papel de super-homem.
E last but not least, é ter sempre em mente que “a Medicina acaba, mas o médico continua”, consoante a sábia exortação de venerando médico são-joanense; e, diante do chamado “paciente terminal”, é ser capaz de acolhê-lo, amorosamente, até o desenlace, na crença de que há momentos de plenitude em muitas despedidas…
Luiz Otávio Savassi Rocha