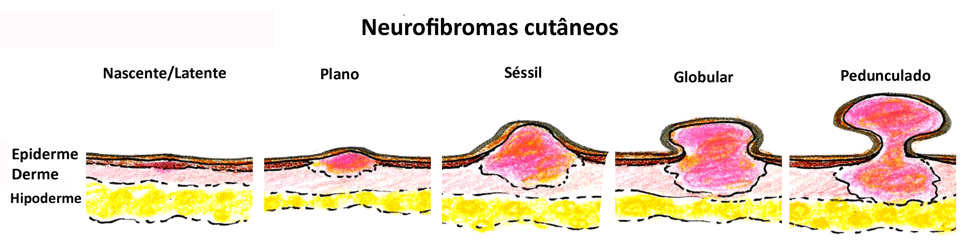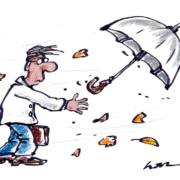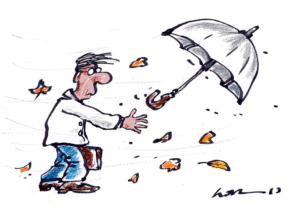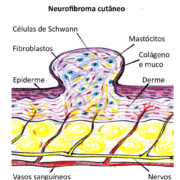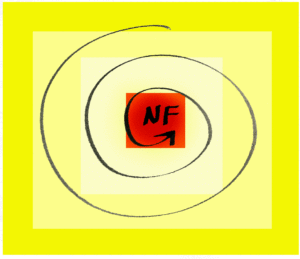É com grande satisfação que recebemos a nota publicada ontem pela UNIMED BH sobre o trabalho que estamos desenvolvendo no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e nesta página. Ver a notícia completa aqui.
O resumo do trabalho comentado pela UNIMED BH pode ser visto abaixo.
Resumo do Tema Livre apresentado no Congresso Mundial de Neurofibromatoses em Paris 2018
Título: O que as pessoas com NF procuram? – Análise de cerca de 250 mil visitantes a um blog de informações médicas.
Autores:
Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues (1, 6)
Juliano Junio Viana (2)
Luiz Otávio Fernandino Tinoco (3)
Nikolas Mata-Machado (4)
Rogério Lima Barbosa (5)
Bruno Cezar Lage Cota (1, 6)
Juliana Ferreira de Souza (6)
Nilton Alves de Rezende (1, 6)
Instituições participantes
1 Presidente da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com Neurofibromatoses – AMANF – Rua Roberto Lúcio Aroeira 40, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 31710-570. amanf.org.br
2 Cientista da Computação na Empresa Kunumi – BHTEC – Rua Professor José Vieira de Mendonça, 770 – sala 208 – Engenho Nogueira, Belo Horizonte – MG, 31310-260. http://kunumi.ai/
3 Presidente da Argument – Empresa de Comércio Exterior e Tecnologia da Informação – Avenida Cristiano Machado 640, sala 601, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. (https://www.argumentcomercioexterior.com.br/)
4 Neurologista pediatra na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos.
5 Doutorando em Sociologia na Universidade de Coimbra, Portugal.
6 Médicos do Centro de Referência em Neurofibromatoses (CRNF) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Alameda Álvaro Celso 55, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 30150-260. E-mail: loc@gmail.com
Introdução
A busca por informações médicas na internet é um comportamento comum, especialmente para pessoas com doenças raras, que pode auxiliar na identificação de profissionais da saúde, tratamentos e recursos terapêuticos. As neurofibromatoses são doenças raras, com grande diversidade de sinais, sintomas e complexidade clínica, e por isso dispõem de poucas pessoas com conhecimento adequado para o seu diagnóstico e acompanhamento. Diante disso, a AMANF e o CRNF criaram um blog denominado “Neurofibromatoses – Dr LOR” (https://amanf.org.br/blog/) para oferecer regularmente informações médicas baseadas em evidências científicas e responder perguntas dos usuários. O blog está ativo desde 2015 e tem recebido cerca de 15 mil visitantes por mês e esta análise pretende avaliar os 30 meses iniciais (de 8/5/2015 a 7/11/2017) da sua existência.
Objetivo
Foram analisadas 262.679 sessões de visita, por meio do sistema de análise do Blogger, para identificar quais os temas mais procurados entre os 405 temas publicados, assim como algumas características e perfil dos usuários.
Uma sessão corresponde ao conjunto de ações que o visitante realiza dentro de um site ou blog. Usuário corresponde a pessoas únicas que geraram as sessões.
Os posts foram publicados na língua portuguesa e alguns deles foram traduzidos por um de nós (4) para o inglês e reproduzidos no site da associação NF Midwest[1].
Resultados
A maioria das visitas foi realizada por pessoas localizadas no Brasil (83%), utilizando a língua portuguesa (92%) e a partir de smartphones (54%). As cidades mais frequentes de onde surgiram os acessos foram: São Paulo (10,8%), Belo Horizonte (9,7%) e Rio de Janeiro (5,8%), que estão entre as mais populosas do país.
Os temas mais procurados foram informações sobre Neurofibromatose do Tipo 1 (NF1 – OMIM #162200), especialmente sobre o diagnóstico da doença (50,9%) e expectativa de vida (20,3%). Outros temas que despertaram interesse estão apresentados no Gráfico 1.
Discussão
Os dados sugerem que a busca por informações sobre a NF1 seja uma necessidade básica das famílias com pessoas acometidas pela doença, porque se trata de uma doença relativamente rara (1:3000), o que dificulta o conhecimento das várias manifestações clínicas e complexidade da doença pelos profissionais da saúde e educação.
Além disso, as cerca de 250 mil visitas constituem um número maior do que a população estimada de pessoas com NF1 no Brasil (cerca de 80 mil). Considerando que 63% das casas no Brasil[2] têm acesso à internet, podemos supor que muitas pessoas visitaram o blog mais de uma vez, mantendo-se a taxa de 31,9% de retornos ao longo dos meses.
Outro achado, que reforça a carência de informação sobre a NF1 entre os profissionais de saúde, foi a busca por informações sobre diagnóstico (50,9%), especificamente sobre manchas café com leite, que são os sinais mais comuns e precoces da NF1. Ao contrário do que se imaginava, a busca por informações sobre tratamentos (3,9%) foi relativamente pequena, o que merece novas análises.
Os meios de acesso utilizados foram predominantemente Android (44%) e IOS (10%), ou seja, metade das pessoas usaram celulares para acessar o site. Este dado nos fez reformular a apresentação e a lógica do blog, inserindo-o na página oficial da AMANF.
A duração média das visitas foi de 3 minutos e este tempo sugere três possibilidades:
- Baixo interesse despertado pela maioria dos temas publicados, fazendo com que as pessoas tenham permanecido pouco tempo na página, o suficiente apenas para a leitura do título ou das primeiras linhas.
- Pouca profundidade na leitura da maioria dos temas, porque grande parte deles necessitaria de mais tempo para serem compreendidos adequadamente.
- Inadequação da linguagem do blog ao nível de instrução formal dos internautas, fazendo com que tenham desistido de ler na íntegra a maioria dos temas.
Este achado mostra a necessidade de revisão da seleção de temas de maior interesse, assim como mais simplificação didática na apresentação inicial do texto, permitindo que o internauta decida se deseja ou não ler o texto completo. Estes recursos já foram implantados na nova plataforma do post na página da AMANF.
Em paralelo ao grande número de acessos, o blog tem recebido manifestações de satisfação por parte dos usuários, que dizem ter encontrado informações científicas e seguras, além do tratamento respeitoso para com as pessoas com neurofibromatoses.
Uma nova análise, por meio do Google Analytics, das visitas realizadas ao blog de setembro de 2017 a janeiro de 2018, quando o blog já estava incorporado na plataforma digital da AMANF, revelou um padrão de comportamento semelhante aos dados desta primeira análise, sugerindo a veracidade do conjunto de dados que dispomos.
Como limitação deste estudo, devemos considerar a existência de mecanismos automáticos de busca na internet, o que nos faz manter cautela quando ao total de acessos considerando também a possibilidade de acesso por robôs. No entanto, as ferramentas que capturam visitantes conseguem distinguir acessos realizados por pessoas daqueles realizados por máquinas.
Conclusão
A criação de um blog com informações médicas científicas sobre neurofibromatoses atraiu milhares de visitantes, que estavam interessados especialmente no diagnóstico da doença, mas que permaneceram pouco tempo na leitura da maioria dos temas.
Agradecimento: À engenheira Ana de Oliveira Rodrigues pela inspiração e orientação no desenvolvimento inicial do blog.
[1] Ver, por exemplo: https://www.nfmidwest.org/blog/spinal-neurofibromas-in-nf1/
[2] Ver https://g1.globo.com/economia/noticia/mais-de-63-dos-domicilios-tem-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml