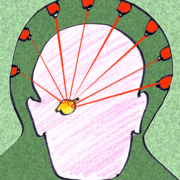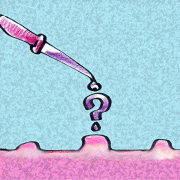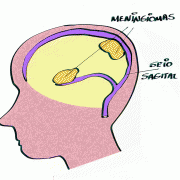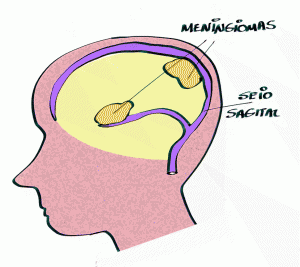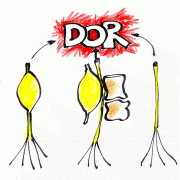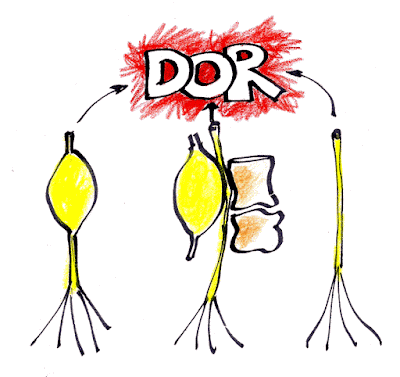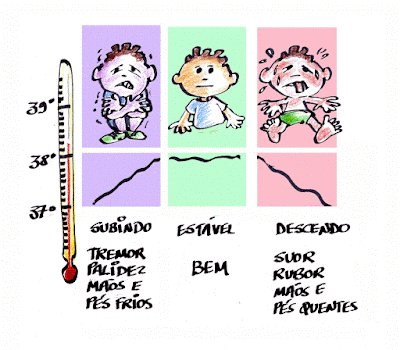Posts
Diante dos cortes de recursos financeiros para a saúde decretados pelo governo Temer, apresento abaixo o discurso que proferi na Câmara dos Deputados em 26 de fevereiro de 2014, durante evento sobre Doenças Raras.
Cara L, obrigado pela sua pergunta.
Recentemente comentei sobre o uso de Gama Knife, que é um dos nomes da radiocirurgia, no tratamento dos meningiomas nas pessoas com Neurofibromatose do Tipo 2 (ver AQUI).
Hoje, você traz a pergunta sobre o uso da radiocirurgia nos schwannomas vestibulares.
“Boa noite, me chamo JM., tenho 41 anos, minha mãe e eu temos neurofibromatose e também, infelizmente, meu filho caçula de 15 anos herdou de mim. Sou professora no ensino fundamental e as vezes as crianças questionam a razão dos pequenos caroços em meu rosto. Fico muito constrangida e respondo de maneira bem simples. Ao consultar minha dermatologista, ela me disse que havia a possibilidade de matar a raiz com o uso de um “peeling” de ácido de fenol, mas este é feito somente por cirurgião plástico. Então entrei em contato com a equipe do Dr. X e quase morri ao saber o valor inicial do tratamento que é a partir de R$15.000,00. Imagina! Jamais teria condições de pagar tal valor. Me ajude por favor, não quero que meu filho passe pelo mesmo constrangimento que eu. Se for o caso envio fotos da minha mãe, minha e do meu filho. Obrigada”. JM, de Porto Alegre, RGS. Leia mais
“Olá. Tenho NF2 e vários meningiomas no cérebro. Qual o melhor tratamento? ” GC, de São Luís, MA.
Obrigado pela sua pergunta, que pode ser útil a muitas pessoas.
Atualmente nossa orientação no Centro de Referência em Neurofibromatoses do Hospital das Clínicas da UFMG para o tratamento dos meningiomas nas pessoas com NF2 segue o Consenso de 2012 (ver artigo completo em inglês AQUI).
Preciso chamar a atenção para o fato de que a conduta a ser escolhida é sempre difícil e deve ser ponderada caso a caso. Assim, o que adaptei do consenso e apresento abaixo deve servir apenas como orientação geral.
Leia mais
A dor crônica, forte e de difícil tratamento pode ser uma das complicações das neurofibromatoses (ver AQUI post anterior), entre elas a Schwannomatose, cuja principal característica é a presença de múltiplos tumores periféricos (schwannomas) acompanhados de dor neuropática de difícil tratamento (ver abaixo a Tabela com os medicamentos atualmente disponíveis para o tratamento da dor nas NF).
Leia mais
“Tenho 28 anos, sou portadora de neurofibromatose do tipo 1 e sou transgênero (não fiz a cirurgia para mudança de sexo). Tenho muitas sardas e atualmente isto está me deixando muito mal, triste, deprimida, então procurei uma dermatologista e aí ela me indicou um tratamento com ácido, eu gostaria de saber se funciona ou não? Também queria saber se eu posso tomar hormônios femininos, mas todo mundo diz que hormônios fazem crescer mais neurofibromas. ” V, de local não identificado.
Cara V., obrigado pelo seu contato.
Primeiramente, vamos ao suposto tratamento das manchas café com leite e das sardas (as efélides). Até o momento não conheço qualquer tratamento comprovadamente eficaz para a remoção das manchas café com leite nem para as efélides. Portanto, minha sugestão é que você não exponha inutilmente a sua pele a quaisquer tipos de medicamentos ou procedimentos com esta finalidade.
Quanto à questão dos hormônios femininos, preciso esclarecer que você é a primeira pessoa com NF1 e também transgênero que tenho a oportunidade de conhecer, portanto, minha experiência neste assunto começa com você. Por isso, para tentar responder sua pergunta com mais segurança, procurei informações científicas nas revistas médicas especializadas.
Por causa da NF1 ser uma doença rara, não encontrei nenhuma informação científica sobre sua situação específica, ou seja, nenhuma pesquisa que tenha analisado os impactos causados pelo tratamento hormonal sobre a saúde de pessoas com NF1 e do sexo masculino (biologicamente falando) que tenham usado hormônios femininos. Portanto, minha primeira resposta para você, por enquanto, é NÃO SEI o que pode acontecer com seus neurofibromas se você usar hormônios femininos.
O que sabemos até agora é que em mulheres com NF1 que usam hormônios anticoncepcionais por via oral, com baixas doses de estrógeno, não parece haver efeito importante destes hormônios sobre o crescimento dos neurofibromas. No entanto, não posso transpor este resultado para sua situação, porque biologicamente sua constituição de nascimento é masculina e você estaria usando hormônio feminino.
Por outro lado, foram relatados alguns casos de câncer de mama e meningiomas (um tumor benigno cerebral) em transgêneros (sem NF) que utilizaram hormônios femininos. Assim, se houver realmente um risco aumentado de formação de tumores em pessoas transgênero que usam hormônios, teoricamente precisamos de ter mais cuidado ainda se forem pessoas com NF, pois as neurofibromatoses são doenças que sabidamente apresentam maior incidência de tumores (inclusive câncer de mama na NF1 e meningiomas na NF2). Portanto, possivelmente usar hormônios sexuais do sexo oposto constituiria um risco aumentado nas pessoas com NF.
Além disso, na população em geral o uso de hormônios sexuais do próprio sexo biológico aumenta o risco de doenças hepáticas, da coagulação, cardiovasculares e de câncer, mas não se conhece com segurança estes riscos quando o hormônio suplementar é do outro sexo.
Portanto, cara V., são estas as informações carregadas de incerteza científica que posso responder a você. Espero que nos próximos anos tenhamos respostas mais seguras para sua pergunta.
Espero também que você possa ser feliz com a identidade na qual se sente mais viva, mesmo que não possua as formas corporais totalmente femininas, pois algumas portas para a felicidade me parecem ser a autoestima, a aceitação e o respeito pelo que somos como seres humanos, independentemente da nossa aparência externa.
“O senhor escreveu que as pessoas com NF1 toleram menos o calor e depois falou sobre convulsões e febre. Como saber se uma criança com NF1 está com calor ou febre? ” TR, do Rio de Janeiro.
Cara T, obrigado pela sua excelente pergunta, pois ela me permite explicar melhor as diferenças entre os sinais físicos de uma pessoa com calor ou com febre.
Calor
Começo pela pessoa que ficou exposta a um ambiente quente durante certo tempo realizando uma atividade física qualquer, ou um esporte ou um trabalho braçal. À medida que absorvemos o calor do ambiente (por exemplo, dos raios solares), nosso corpo vai aquecendo e sua temperatura aumenta. Quando fazemos atividades físicas, os músculos produzem calor e também aquecem o nosso corpo. Se somarmos as duas fontes de calor, ambiente quente e exercício físico, nosso corpo aumentará ainda mais rapidamente a sua temperatura.
Sabemos que nosso cérebro só funciona bem dentro de uma faixa normal de temperatura. Quem desejar saber mais sobre este assunto pode ver meu livro para crianças chamado “Cabeça fria é que faz gol” (AQUI).
Para manter a temperatura do cérebro dentro da faixa saudável, o corpo distribui uma parte do sangue sob a pele e começa a suar. Por isso a nossa pele fica avermelhada pelo sangue (chamada de rubor) e umedecida pelo suor. Se você colocar um termômetro na axila desta pessoa suando e com a pele quente, especialmente nas extremidades (mãos e pés, que continuam secos), poderá encontrar a temperatura um pouco aumentada, como se fosse febre, mas não é. É aumento da temperatura do corpo por causa do ambiente e/ou do exercício.
Se o suor evaporar, a evaporação retira calor da pele, que resfria o sangue, que então resfria o cérebro. Se o suor não puder evaporar, como nos ambientes úmidos (da floresta amazônica, por exemplo), o calor vai acumulando e aquecendo o cérebro e prejudicando as suas funções a partir de uma certa temperatura, geralmente acima de 40 graus centígrados.
O nível de tolerância de uma pessoa ao aumento da sua temperatura cerebral depende de quanto está acostumada com o ambiente quente e com o exercício (condicionamento) e de seu estado de saúde. Diversas doenças, incluindo a NF1, reduzem a tolerância das pessoas ao aumento do calor corporal.
Febre
No aumento do calor corporal por causa do ambiente e do exercício nosso corpo QUER jogar calor para fora e baixar a temperatura, mas NÃO CONSEGUE. Ao contrário, na febre, o corpo QUER conservar calor para aumentar a temperatura e assim combater a infecção que o está atingindo, possivelmente atrapalhando o crescimento de algumas bactérias.
Então, na febre, o organismo vai fazer ao contrário do que no ambiente quente: vai retirar o sangue da pele, para evitar a perda de calor para o ambiente, e por isso ficamos pálidos. Além disso, enquanto a febre estiver subindo, o corpo não vai suar. Se estas duas tentativas não forem suficientes para aumentar a temperatura em 1 ou 2 graus, o indivíduo começa a tremer para produzir calor por meio de contrações musculares involuntárias.
Esta é a primeira fase, na qual a febre está subindo (ver figura acima). Nesta fase as pessoas sentem frio, calafrios e outras manifestações de desconforto, fadiga e desânimo. Esta fase pode durar alguns minutos ou mesmo horas, dependendo da doença que está causando a febre.
Assim que o acúmulo de calor atinge a temperatura corporal que a evolução selecionou como sendo a mais adequada para aquela infecção, a palidez melhora, o tremor desaparece e a pessoa se sente mais confortável, apesar de estar com a temperatura interna acima de 38 graus centígrados. Esta é a fase estável de febre (ver figura acima), e pode durar várias horas.
No momento em que o organismo entende que a causa da febre diminuiu (a produção de certas proteínas pelas bactérias ou pelas células que combatem a infecção), começa então a última fase da febre, na qual o corpo tenta eliminar o excesso de calor que acumulou nas fases anteriores. Neste momento começa a vermelhidão da pele, a produção de suor e a sensação de calor que faz com que as pessoas retirem as cobertas e as roupas quentes (ver figura acima).
Tratamentos?
Dependendo do aumento da temperatura corporal causado por ambiente quente e exercício, ele precisa ser combatido com medidas urgentes como interromper a atividade física e retirar a pessoa do calor, dar banhos de água fria e acomodá-la em ambiente com ar condicionado. Algumas vezes estas medidas podem ser de emergência, pois a insolação (ou hipertermia) pode ser fatal ou deixar graves sequelas.
Outras formas raras de aumento da temperatura corporal, chamadas hipertermias malignas, que ocorrem por sensibilidade a determinados medicamentos, especialmente anestésicos, devem ser tratadas intensivamente pois podem ser fatais.
Por outro lado, estou convencido cientificamente de que não há necessidade de tratarmos a febre comum, causada por infecções bacterianas e virais, porque ela segue seu curso natural das três fases descritas acima, mesmo nas crianças que apresentaram algum episódio de convulsão febril (ver aqui). A febre em si não causa qualquer dano, pois ela geralmente é autolimitada a menos de 40 graus, ou seja, abaixo dos limites para causar problema cerebral.
Uma exceção que justifica o tratamento da febre alta seria para aquelas pessoas com insuficiência cardíaca grave, pois o aumento do metabolismo causado pelos tremores musculares poderia ser o bastante para descompensar a função cardíaca que já está muito limitada.
Além disso, a primeira fase da febre costuma durar menos tempo do que o tempo necessário para um antitérmico por via oral fazer seu efeito (a não ser os injetáveis). Também não faz sentido tratar a febre na sua fase dois, em que ela está estável, já atingiu seu limite natural e a pessoa já está mais confortável. Menos necessário ainda seria o tratamento na terceira fase da febre, na qual ela está espontaneamente desaparecendo.
Parece-me que muitas vezes damos os medicamentos antitérmicos apenas para aliviar os sintomas de desconforto e fadiga causados pela febre. No entanto, estes sintomas são restritos apenas à fase inicial da febre e fazem parte das defesas do organismo para ficarmos mais quietos e protegidos num momento em que nosso corpo está empenhado no combate à infecção.